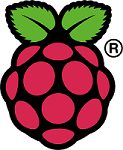A Índia Serena
Há um mar de adjetivos possíveis que se ajustam a toda e qualquer cidade indiana mas, sinceramente, serena, não é um dos que me ocorre. Bulício, multidões das mais diversas gentes, dedicadas aos mais variados afazeres, sim, mas serena…
Contudo, há uma exceção: Cochim, ou Fort Kochi, como é conhecida fora de Portugal, é uma evidente e atraente exceção. Passear nas suas ruas, à sombra das imponentes figueiras índicas, ficar nas margens a olhar o mar, ou o trânsito de petroleiros e embarcações de todos os tipos, é sempre um prazer.
Acresce que esta denominação, Fort Kochi foi atribuída pelos britânicos, depois de expulsarem os holandeses, em 1814, os quais holandeses, por sua vez, nos expulsaram a nós, portugueses, em 1663. Nessa altura, para nós, aquele local era Cochim de Baixo. A nossa Cochim era muito maior.

Não é nada fácil chegar a Cochim, ou Fort Kochi. No nosso caso, vínhamos de comboio da capital de Kerala: Thiruvananthapuram, Thrivandrum para facilitar os amigos, ficávamos em Cochim uns dias, seguindo depois para Goa, que iria revisitar duas décadas depois.
Até parece fácil e linear, litoral acima, sempre a direito, mas não. O comboio que serve Cochim, na verdade fica em Ernakulam, dessa estação temos de nos chegar à linha de água, com armas e bagagem, no nosso caso numa das inconfundíveis motoretas táxi, na verdade tuc-tuc, pretas e amarelas que existem por todo o lado na Índia.
No porto de Ernakulam, muitíssimo concorrido e a abarrotar de petroleiros e outras embarcações de grande porte, mas também ferries, temos de escolher, entre múltiplos destinos possíveis, aqueles que se dirigem – finalmente – a Cochim.
Esta dificuldade deve-se a uma enorme massa de água, paralela ao oceano, que interrompe a terra, desde Allaphusa, a quase 60 km a sul, formando uma espécie de ria, como as Gafanhas em Aveiro, que se afastam do litoral arenoso por uma portentosa arriba, como na Costa da Caparica. Não há linha reta no litoral, a não ser pela tal ria. A linha de comboio tem de se afastar significativamente do litoral.
Precisamente por essa razão, a nossa ideia original era fazer um pequeno cruzeiro, na verdade, aproveitar a carreira de ferry que existe ligando as duas cidades em cerca de meia dúzia de horas. Mas a carreira só se realizava no verão deles e nós estávamos no nosso verão (quando tínhamos férias) e não no deles.
Essa massa de água, com a sua intrincada rede de braços e afluentes, era conhecida localmente por backwaters e goza de um reconhecimento global, sendo, inclusivamente cenário de vários filmes e novelas, e não apenas de Bollywood.
Não tínhamos conseguido a viagem no ferry, mas não tínhamos desistido das backwaters. Lá chegaremos.
Fort Kochi é a ponta norte de uma extensa península entre o Índico e a foz dos tais backwaters, tendo ainda a ilha de Willingdon entre Cochim e Ernakulan. Esta ilha é a localização de diversas infraestruturas navais, nomeadamente da Marinha Indiana. Mas estes tipos de construções portuárias rodeiam Cochim por tudo quanto a vista alcança.
Os portugueses, no século XVI foram atraídos para Cochim pela sua atividade comercial e portuária, centro nevrálgico de mercadorias de toda a região, não só do Índico, mas do Mar da China, Indonésia, etc.
Evidentemente, essa vitalidade comercial não só se manteve, como se desenvolveu.
A sul de Cochim, no prolongamento desta sua península, sem quaisquer divisões, limites ou fronteiras, fica Mattancherry, com muito mais comércio e indústria do que a cidade de Cochim propriamente dita.
Em vez de reservar um hotel, fomos para um alojamento local, procurando maior relacionamento com os habitantes locais.
Ficámos na casa de uma família católica, muito simpática, mas que acreditava na liberdade dos hóspedes e não interagia muito connosco. Para isso contribuía termos rotinas muito diferentes. Eram ambos professores e saiam cedo para o trabalho.
Depois de tomarmos o pequeno-almoço em casa, partíamos pela cidade em busca do inevitável expresso, o que não foi tarefa difícil. Mesmo no Largo Vasco da Gama, quase à beira-mar, numa apetecível esplanada, lá estavam os expressos mesmo à nossa espera.

De resto, ali em volta não faltavam opções alternativas. A escolha era difícil e acabou por ser decidida por um autoclismo. Sim, leram bem. Aqui na Costa da Caparica, na casa dos meus pais, tinha muito orgulho no autoclismo de marca Dilúvio, Contudo, foi ali suplantado por aquele Niagara em rosa choque. Inultrapassável!
O Largo, entre um jardim e o mar, era palco de um espetáculo contínuo, todos os dias diferente. Na beira-mar propriamente dita, várias redes chinesas de pesca estavam ao serviço. E eram também eles um espetáculo.
As redes chinesas de pesca são construções relativamente grandes, com um braço, normalmente em bambu, ou apropriadamente de cana-da-índia, preso numa ponta na casota (onde fica o pescador) e na outra ponte fica montada uma grande rede quadrada, sempre armada, que baixa e submerge na água, para, tempo depois, ser levantada aprisionando os peixes incautos que se encontravam na zona da rede.

No fundo, é o mesmo sistema que é usado nos nossos rios para pescar enguias com um chapéu de chuva.
Ainda me lembro de haver uma rede daquelas em Macau, na Praia Grande, quando aquela avenida era o limite urbano com as águas do Rio das Pérolas. Onde é que isso já vai…
Naquela parte de Cochim havia 10 construções palafitas daquelas, terminadas pelas redes, umas ao alto, esperando a ocasião propícia, outras submersas, exercendo a sua função.
Num dos dias, quando chegámos ao café, a Praça estava invadida de colunas de som, tripés, holofotes e um pequeno magote de bailarinos no meio da praça, a protagonizar um filme, naturalmente indiano, com as suas incontornáveis danças de coreografias únicas e imediatamente inconfundíveis.
Há sempre uma razão – renovada – para tomar ali o café da manhã.
Além de ver as redes chinesas, que não são propriamente um espetáculo dinâmico, logo ali, a Igreja de S. Francisco impõe-se como destino.
Não é uma igreja especialmente imponente, de resto, a poucos metros, a Catedral Basílica de Santa Cruz é muito maior e, sim, imponente. Porém, a de S. Francisco foi a primeira igreja católica de toda a Índia e tem o túmulo de Vasco da Gama.
O túmulo, não o Vasco da Gama, ou o que resta dele.

O navegador português, o primeiro a chegar à Índia, em 1498, morreu em Cochim, na véspera de Natal de 1524, na sua terceira viagem à Índia. Ficou sepultado durante 15 anos na Igreja de S. Francisco, na tal tumba que ainda se pode visitar.
Em 1539 foi trasladado para a Igreja de um convento carmelita, conhecido atualmente como Quinta do Carmo, próximo da vila alentejana da Vidigueira, uma vez que era conde da Vidigueira desde 1519. Uma longa viagem, portanto.
Mas não ficou ali para todo o sempre.
Em 1880, ocorreu a sua última trasladação (até à data), desta vez para o Mosteiro dos Jerónimos, que foram construídos logo após a sua viagem, ficando ao lado do túmulo de Luís Vaz de Camões.
Regressando a Cochim, a Basílica Catedral, é imponente. No estado de Kerala há muitos católicos e muitos cristãos. Curiosamente, durante a nossa visita, deparámo-nos com a estátua peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
Não sabia, mas descobri ali que existe uma imagem, reprodução fiel da que se encontra no Santuário de Fátima, que peregrinou por esse mundo fora, para alegria dos seus, muitíssimos, fiéis. E lá nos encontrámos.

Os indianos têm um sentido de religiosidade diferente do nosso que acolhe uma grande curiosidade pelas religiões e ofícios religiosos dos outros. Por essa razão, em todas as celebrações religiosas há que contar com um número substancial de visitantes e curiosos.
Quanto aos holandeses também ainda são celebrados. Eles, que possuídos de um fervor decerto protestante, destruíram boa parte dos monumentos e especialmente das igrejas portuguesas, além das muralhas que deram o nome de forte a Cochim – não por motivos religiosos, naturalmente.
Uma das relíquias neerlandesas é o pequeno Cemitério Holandês, que os britânicos tiveram a boa ideia de não destruir.
É comovente ver as campas de pessoas sepultadas há séculos, que não podiam imaginar o mundo que agora lhes observa as campas, bastante descuidadas, de resto, assim como os caminhos por entre elas. Passear pelos epitáfios, normalmente com pouco mais do que os nomes, é um exercício que inexoravelmente nos desperta para a efemeridade da vida.
A Capital das Especiarias

Nestes passeios despreocupados pelas ruas de Cochim, cuja serenidade nos colocavam completamente descontraídos, até do calor, fomos abordados por um ciclista de um riquexó que nos interpelou: “já compraram especiarias?”. Especiarias? Estávamos a galáxias de pensar em especiarias, apesar de conscientes, sim, que aquela era a sua capital. Há séculos.
Lá dissemos, envergonhados, que não, e o ciclista-taxista, do alto do seu riquexó, olhou-nos com ar reprovador.
Realmente, foram precisamente as especiarias que levaram os portugueses a viajarem em cascas de noz, há quinhentos anos, mais coisa menos coisa, e aportar ali. O ciclista, claro que conhecia a melhor loja de especiarias de Cochim, que por incrível coincidência era de um seu primo que nos faria preços irrecusáveis.
Porém, a loja não ficava em Cochim, mas sim em Mattancherry. Duvidámos se ele podia pedalar até lá. Respondeu rápido, sorrindo, que era “logo ali”, afiançou ele. E era.
Deslizámos pelas ruas, sempre sombreadas por enormes figueiras até uma pequena loja, de um primo, o tal, e por mais que disséssemos que não iriamos comprar grande coisa – era só o que faltava – calcorrear a Índia com quilos de especiarias, e acabámos por comprar uns saquinhos com várias especiarias para oferecer aos nossos filhos. Coisa de turista.
É curiosa a imagem que nestes locais têm dos turistas, imagem que ultrapassa a lógica, esperando que os turistas façam coisas que a imaginação não alcança. Mas não é só nestes locais de culturas longínquas (apesar da Índia nos ser próxima) que alimentam esta ideia do turista capaz de tudo. Com lugar especial, e merecido, claro, para o turista americano.
Tal como disse, não há transição entre Cochim e Mattancherry. São as mesmas ruas que, de repente proclamam, aqui já é Mattancherry. Contudo, é visível mais comércio, aqui e ali um mercado de rua e também de estruturas que necessitam de mais espaço.

É aqui que ficam templos de maiores dimensões, como o Templo Thirumala Devaswom com enormes edificações e ainda maiores jardins. Dizia-nos o nosso guia que costumam ter lá elefantes. No entanto, por mais que tentássemos, eles não se viam, apesar de existir espaço suficiente.
Pudemos entrar e deambular pelo templo, incluindo a enorme e atarefada lavandaria, os vastos estendais, ruas e edifícios para todas as atividades.
Há também uma outra grande igreja Católica, a de S. Pedro e S. Paulo, de resto, com traça bastante similar à Basílica.
Pelo caminho fomos vendo diversas lojas de especiarias, que exalavam um perfume inescapável, oferecendo as cores vivas dos montes de especiarias, parecendo que as lojas se esforçavam por se especializar numa ou noutra das muitas especiarias presentes, muitas delas provenientes de paragens relativamente longínquas, mais para nós, europeus, do que para eles, indianos.
E ali ia desfilando, ao ritmo lento do riquexó, a capital das especiarias, em tempos a maior inveja da Europa.
E voltámos a Cochim.
Khatakali
Seria de todo imperdoável visitar Cochim sem assistir a uma representação de Khatakali, a dança-teatro tradicional desta zona da Índia, normalmente expresso em língua Malayala, a língua predominante do estado de Kerala.
Sendo uma arte cénica antiquíssima que combina música, canto, dança e drama, um espetáculo de Khatakali começa com a cuidadosa arte de maquilhagem dos atores, feita em palco, arte fortemente codificada, em que cores e desenhos da face têm um significado profundo, seja a representar o King Lear, de Shakespeare (!) seja uma das cenas do Ramayana.

Em palco, os atores em tronco nu, vão pintando o rosto e o pescoço com cores fortes, por exemplo verde, como a foto documenta, reforçando olhos e boca com expressões que caracterizam aquela personagem. À medida que vão fazendo a maquilhagem, explicam o seu significado, respondendo também às questões dos presentes.
É em si, já um espetáculo, que decorre lenta e cuidadosamente, com a demora que o rigor da cenografia exige.
Além dos atores, estão em palco também músicos e cantores, ambos de resistência admiráveis, que acompanham toda a representação, sem abrandar ritmo ou canto numa performance realmente admirável.
Os atores, que captam realmente todas as atenções, movem-se com pequenos passos, com a expressividade concentrada nas posições das mãos e nos movimentos e expressões dos lábios e dos olhos.
Esta dramatização com significado concentrado na posição das mãos é também a norma, por exemplo, na dança tailandesa, e não só, em Bali também. Não custa imaginar que seja esta a sua origem, especulo eu. Em relação a Bali, uma comunidade de base hindu, não constituía surpresa, quanto à Tailândia, não sei, mas a semelhança, seja ou não comprovada a filiação, aqui fica…

A pequena sala do Centro de Khatakali de Kerala estava cheia de turistas, tão curiosos quanto nós, que acompanharam a maquilhagem com interesse, sendo convidados pelos atores a aproximarem-se para obter melhores fotografias e não se fizeram rogados.
Quanto aos viajantes fotógrafos, nunca deixo de pasmar com os pesadelos que transportam ao pescoço. Acho que toda a nossa bagagem pesa menos do que tantas máquinas, teleobjetivas e outros zingarelhos – decerto imprescindíveis – mas que nem descortinava o que fossem.
Este Centro chamou a si a proteção e desenvolvimento desta arte tradicional de Kerala, sendo assinalado em todos os guias e constituindo um polo incontornável para qualquer visita a Cochim, capitalizando a arte com os seus muitos séculos de história: uma pérola.
Esta companhia tem sido convidada para diversas digressões e a sua interpretação do Rei Lear, de Shakespeare, foi televisionada e passou em muitas estações ocidentais de televisão, incluindo a RTP.
Mesmo ao lado das suas instalações fica uma academia de artes marciais especializada, também ela, numa arte tradicional de Kerala: Kalari payattu.
Esta arte marcial inclui pancadas, pontapés, agarramentos, formas predefinidas, técnicas com armamentos, mas também métodos de cura.
É possível que exista uma influência da China, de onde é originário o Kung Fu e vários outros tipos de artes marciais, agrupadas no que os chineses denominam de Wu Shu, que terão aparecido antes e que também continha formas de cura, ou medicina, se quisermos.
Após o espetáculo resolvemos jantar perto do centro, num restaurante com esplanada à beira do mar. Foi um jantar romântico, a ver passar petroleiros, as luzes das gruas no porto do outro lado da água e, uma vez por outra, com o motor sincopado de uma qualquer embarcação, iluminada com fortes e pródigas luzes fluorescentes e que lentamente passava por nós.
A esplanada estava montada num cais que evidentemente tinha mudado de função, mantendo, porém o aspeto rústico das suas origens. Na verdade, o romantismo estava em nós.
Mas o caril de camarão estava bem bom.
Cruzeiro nas Backwaters, finalmente
Tínhamos marcado um tour pelas tais Backwaters, para o último dia da nossa estadia em Cochim. Marcamos na Agência de Viagens Vasco da Gama. Como não podia deixar de ser.

Deixámos ficar as malas na agência com o compromisso de elas virem ter connosco no regresso, de forma a ir diretamente para a estação apanhar o comboio para Goa, a nossa próxima paragem.
Foi um risco, bem sei, mas até resultou bem. Quase. No regresso, o trânsito estava tão intenso que nos largaram numa paragem de autocarros e dessa forma chegarmos ao comboio.
Conseguimos realmente entrar no autocarro em questão, mas os passageiros lutavam ferozmente por cada centímetro quadrado de espaço que mais parecia uma batalha campal, acentuada pelas travagens e arranques selvagens do condutor. Foi uma luta! Porém, não muito prolongada.
O autocarro foi enchendo, paragem após paragem, pondo fim à batalha. Não havia espaço para empurrões ou cotoveladas. Pelo nosso lado, já estávamos aflitos a planear como sair quando chegasse a nossa vez. Mas o condutor chamou os passageiros à razão e a coisa foi muito mais fácil do que parecia.
Não sei como arranjaram espaço e caminho para a saída. Mistério (ou milagre).
Mas regressemos ao cruzeiro.
A promessa era a utilização de dois tipos de embarcação diferentes. Uma para águas mais profundas – a motor – e outra, quase canoa, movida à vara, tipo gôndola, mas sem os rebites de proa e popa, apropriada aos canais mais estreitos e pouco profundos.
A primeira embarcação afastou-se rapidamente pela grande toalha de água até um pequeno embarcadouro onde já nos esperava um homem pequeno, muito escuro, com a vara na mão, pronto a deslizar pelos canais laterais, submersos no verde pujante de plantas marítimas e terrestres.
A canoa não tinha proa nem popa, era lisa e direita, preparada para navegar em qualquer direção, dirigidas por um homem com o auxílio de uma longa vara.

Curiosamente, um dos quatro casais na nossa canoa era português. Perdão, dois, nós também. Eram dois jovens em Lua de Mel e estavam mais virados para eles, arrulhando, do que para falar com os outros.
O guia, sentado numa ponta, foi apurando as origens de todos os ocupantes, conhecia imensos detalhes da cultura e da política de todos os países, incluindo o nosso. Havia ainda um casal britânico e outro alemão.
Depois, já num dos múltiplos estreitos cursos de água que passavam por várias casas bonitas, cada uma com o seu próprio embarcadouro, demonstrando uma comunidade ribeirinha viva e ativa.
Casualmente, referi a semelhança daquela paisagem com a descrita por Arundhaty Roy, no seu excelente romance “O Deus das Pequenas Coisas”.
“Ah, claro, a casa dela é mesmo ali”, disse ele, mudando depois para tratar com o “gondoleiro” a possível mudança de itinerário. Mas já não era possível.
Voltou-se para mim: “Não pense que esse romance representa a verdadeira Índia”.
Não? Respondia eu. “Mas parece. Não estou a ver outro país com castas tão vincadas, e o conflito entre cristãos e hindus… talvez não tão aceso como com os muçulmanos…”
Pois, pois, aquiesceu. Mas nada disso oferece uma imagem da verdadeira Índia, esse é coisa para intelectuais, e olhando para mim, acrescentou: como vocês. Não pensem que por ler esse romance têm um vislumbre da verdadeira Índia.
Acrescentou pouco depois: se querem conhecer a verdadeira Índia, leiam o Tigre Branco, de Aravind Adiga, aí sim, exclamou.
Nunca tinha ouvido falar. Mas logo ali resolvi ser a primeira coisa a fazer depois de chegar a Goa.
O almoço aconteceu no alpendre de uma casa de madeira, bastante arruinada, perdida na floresta de bananeiras, que pareciam ter crescido ao acaso,
O alpendre estava preparado para aquela função. Tinha um balcão em redor do alpendre, com o centro rebaixado, onde o cozinheiro trabalhava e servia os comensais, sentados em bancos corridos. O balcão tinha largas folhas de bananeira a servir de pratos e dispúnhamos de talheres que pareciam salvados da I Guerra Mundial.
Foram aparecendo peixes grelhados, com arroz de caril, vegetais salteados, com arroz de caril, algumas “coisas” fritas, com arroz de caril, e o repasto virou banquete. Com arroz de caril.

Não estranhem esta das “coisas” fritas. Não é que não perguntássemos que coisas eram aquelas, e não era que não respondessem. Eu é que ficava na mesma. Coisas então.
O guia ia mostrando as casas, algumas referenciadas a gente importante de que nunca tínhamos ouvido falar, porém, as casas eram lindíssimas, muitas em traça colonial, majestosas, outras, pequenos casebres ameaçando ruir a qualquer momento.
No entanto, a paisagem, afundada em vegetação das mais diferentes naturezas, submergiam-nos num mundo partilhado entre as águas calmas do “Backwaters” e os ramos frondosos que invadiam o braço de água e nos obrigavam a baixar a cabeça.
Não voltámos à embarcação a motor. Passámos por dois ou três casas-barco que servem de alojamento turístico, muito à moda de Caxemira.
A carrinha da Agência Vasco da Gama esperava-nos num ancoradouro que não víamos até estarmos lá.
Despedimo-nos de todos, prometendo a leitura do Tigre Branco assim que pudesse.
E assim foi. Depois de o comprar, não o largámos até acabarmos de o ler, e sim, é uma janela para a Índia profunda. Mas o virtuosismo narrativo e literário de Arundhaty Roy, permaneceu…