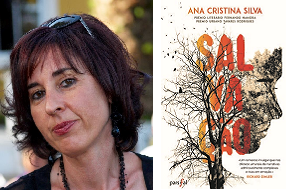Carta a Ana
Ana, mulher minha
Escuta. É a noite que se move na montanha, a lenta música processional da brisa. É a erva que nasce na colina, a queda do orvalho, a chuva de estrelas, o sono das aves nos bosques.
Escuta, com todos os teus sentidos, como o arco-íris, a sinfonia das águas, o encontro de mãos, o céu em movimento, o perfume dos prados ou um sorriso de criança, se harmonizam num conjunto de inexcedível beleza.
Creio que só os poetas e os amantes o podem ver porque, livres das amarras do compromisso e flutuando em mundos irreais, alcançam a necessária transcendência, comparável ao sonho. Porém, todos os sonhos irão terminar quando quem os sonha despertar. E esse despertar, posso garantir-te, nem sempre é agradável.
De súbito, surgiu uma tempestade!
Vindo de atmosferas ocultas, soprou um vento de pesadelo. Envolveu-me num turbilhão e eu fui arrastado para um abismo.
O espanto não me permitiu perceber o que se passava e eu pensei ter naufragado numa metáfora de horror.
Entretanto, a verdade foi-se impondo, gradualmente, e acabou por se revelar tal como era: cruel!
Sim, Ana, tu morreste!
A morte, essa ceifeira do mundo, emergiu das trevas profundas onde habita para destruir a felicidade que ambos vínhamos construindo com alegria, amor, carinho e amizade.
O meu espírito, num movimento de revolta, recusou-se a aceitar a evidência. Obstinou-se numa elevação patética, procurando ver para lá do tempo, algures noutra dimensão.
Durante dias e noites perscrutei as insondáveis brumas da eternidade, onde, desesperada e ingenuamente, quis acreditar que tu estivesses.
Depois, vindo dos confins do medo, um tremor apossou-se de mim e tive, então, a consciência de te ter perdido.
Fiquei apavorado!
Lágrimas, espontâneas, rolaram-me pelo rosto sem que eu estivesse a chorar. Hoje sei que eram a expressão silenciosa do meu mais profundo lamento.
Foram noites e dias de desespero, e uma noite incessante onde cabiam todos os dias, até reconhecer que partiste para um lugar desconhecido, impreciso, e que a mim só me restou a solidão.
Foi quando, sem convicção e, vagamente, enfrentei o conceito de morte, sabendo que a decepção culmina sempre na busca de logros. Mas havia em mim uma intenção bravia de a negar, e eu dizia que a tua morte não é morte, porque lhe desconheço a natureza e nem sei o que ela é. Precisava de descobri-lo primeiro pois, enquanto o não fizer, o meu luto não terá fim e a minha dor não terá descanso. E eu tenho de acalmar esse sofrimento de ouvir uma voz que está morta para sempre. Mas isso não significa o esquecimento, a cura, o fim do luto – porque esse nunca chegará.
Costuma-se encarar a morte como a fronteira do desconhecido, como uma determinação misteriosa dos deuses, como uma passagem para outro estágio – inalcançável –, como uma ruptura, uma separação e, acima de tudo, como fonte de uma dor intensa. Nada disso ajuda! Alguns povos africanos que têm uma ligação mais íntima entre o mundo terreno e o espiritual, quando morre um ente querido, sabem que este se instala, firme e definitivamente, no espírito dos que lhe sobrevivem e lá se mantém vivo para sempre. Eu, admirador dessas sabedorias ancestrais, também tenho a certeza de que tu vais perdurar até à morte do universo. Além disso, estou convencido de que a morte não é detentora da última palavra no que diz respeito à vida.
Porém, sei que a noite vem e será longa, como sempre foi, mas também sei que a manhã existe e que a própria noite sabe disso.
Na impossibilidade de me comunicar contigo, resolvi escrever-te esta carta marcada pelo desespero, que julgo ser a mais insólita que alguém pode imaginar.
É, acima de tudo, uma carta singular, pois tem um destinatário, que és tu, tem um remetente, que sou eu, mas não tem um endereço. Não sei para onde a hei-de enviar, porque desconheço onde estás e nem sei se ainda és.
Sei, apenas, que não compreenderei o que te aconteceu nem o que sou actualmente se não a escrever. Sou o guardião da tua memória e devo recriá-la sob a forma de História. A emoção do relato situa-se entre palavras, tal como a respiração lenta e forte da dor que devo ocultar no coração. Também sei que o que as palavras calam é mais importante do que o que dizem, mas, sem palavras, não há qualquer esperança.
Como podes imaginar, estou em choque.
Ana, na impossibilidade de alterar o destino, mas procurando suavizar a minha angústia e a minha dor armei-me com toda a ingenuidade de que o meu espírito foi capaz de suportar, e tentei enganá-lo.
Resolvi tornar-me construtor de passados, do nosso passado, para preencher o vazio que se cavou em mim e, assim, ignorar a realidade. Pois diz-se que a memória é o espelho onde se observam os ausentes.
Com a mesma emoção de outros tempos, voltei a embrenhar-me pelos caminhos plenos de alegria e amor que ambos percorremos, misturando no olhar paisagens distintas e distantes, num mundo que nos sorria.
Foi quando, no íntimo do meu coração, te tornei na mais perfeita e bela das mulheres, tão bela que até enrubescias o pôr-do-sol.
Para mim, o teu rosto passou a estar emoldurado pelos permanentes sorrisos nos teus lábios quentes e bem desenhados, pois eu nada tenho e nada me faz falta, se tu me sorris.
Desses lábios guardo uma recordação absolutamente inolvidável dos milhares de vezes – que sei eu? – que os beijei, foram tantas que ambos ficávamos com os lábios inchados, lembras-te?
A tua voz, que é uma pura alucinação da minha memória, faz com que a solidão que me envolve se esvaia como a névoa sob os raios do sol, assim como o angustiante tédio que me oprime seja como uma sombra leve do belo que eu vejo nos teus olhos.
Ana, pretendo com esta carta fazer um regresso a um tempo que já vai ficando distante e nele recordo a vida não vivida, isto é, quero viver de novo. Aqui, procuro transmitir os momentos inolvidáveis da nossa existência, que ainda me preenchem o pensamento em ciclos constantes, e que são o único antídoto que possuo para combater a dolorosa solidão que me cerca.
Naquela manhã ensolarada, quando os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, ocorreu algo inimaginável, que a psicologia não explica.
Começou por uma banalidade, ou seja, pela atracção rápida e intensa de duas pessoas desconhecidas, a que se convencionou chamar de paixão. A particularidade residiu no facto de que essa paixão nunca perdeu a intensidade inicial e manteve-se com o mesmo fulgor durante vinte e cinco anos, até ao momento em que o destino nos separou.
Passado tanto tempo, ainda sinto que me cercas com as tuas mãos no amplexo esplêndido do teu colo e eu ouço as fontes rumorejantes do teu sangue que corre nos canais da tua carne, onde tantas vezes me perdi.
Também vejo os teus cabelos castanho-alourados caírem-te como uma cascata imperial sobre os ombros alvos; a tua figura esbelta, de pernas altas bem torneadas; aquele vestido esvoaçante quando dançavas recorda-me as festas das noites paulistas, onde a tua beleza e graciosidade eram rainhas; o teu corpo nu repousando na sombra de um coqueiro nas areias douradas do litoral fluminense ou no chão musgado junto de uma das muitas cascatas – esses locais sagrados, onde o devaneio, o sonho e o prazer se misturavam – e onde procurávamos refúgio, o deslumbramento e a autêntica intimidade da Natureza para nos amar.
Surgem-me agora, como num cortejo processional da vida, as imagens, os risos, as paisagens, a amizade e o amor, a alegria pura das crianças, os carinhos, as músicas e o sol, esse teu luminoso e acariciante sol do Sul – tu nunca concebeste um mundo sem alma e sem pôr-do-sol, e isso era de tal forma evidente que até a própria noite vinha de mansinho buscar o brilho do sol esquecido no teu cabelo.
Eu fui para ti, ao longo de tantos anos, o teu amante em permanente delírio e tu, para mim, foste uma fonte inesgotável de amor e de prazer, diria mesmo que foste o princípio da minha nova existência, ou um novo amanhecer.
Não entrarei em pormenores sobre o nosso relacionamento mais íntimo, porque fazem parte do modo como repartíamos entre nós as infindáveis doses de amor e de carinho que brotavam espontâneas dos nossos corações. No entanto, recordo com um misto de encanto e ternura a primeira vez que estivemos verdadeiramente a sós na intimidade de um quarto de hotel.
Estávamos loucamente apaixonados e beijámo-nos vezes sem conta.
Os nossos corpos nus atraíam-se mutuamente, mas nós, como se nos tivéssemos sublimado, não procurámos o coito que julgávamos inevitável. Em vez disso, de frente um para o outro, olhando bem no fundo dos nossos olhos, deixámos que as palmas das nossas mãos se aproximassem sem se tocarem, como na pintura ‘A Criação de Adão’, de Michelangelo, e elas transmitiram uma energia e uma química recíprocas, até que atingimos o clímax transcendental.
Considero esse, o momento mais belo da nossa convivência amorosa, pois, foi como que uma revelação para nós, de que as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar.
Soubeste sempre, com uma alegria contagiante, como se fosse um hino à amizade, transformar o mundo que te rodeava num plácido lago de harmonia e solidariedade, em que o calor suave que irradiavas aquecia os corações de todos.
As mulheres invejavam-te fraternalmente, reconheciam-te a vaidade campestre, simples e natural, já os homens adoptavam-te ao primeiro olhar, e punham-se logo do teu lado. Para pessoas, como tu, cujos pensamentos flexíveis tinham um certo saber dançante ao acompanharem o ritmo do sol, cada dia que despontava era como uma perpétua manhã.
Lembras-te do prazer que sentíamos, misto de orgulho e vaidade, quando nos diziam, ao verem-nos de mãos dadas na rua, que nós parecíamos irmãos, tal era a força do nosso amor que, até fisicamente, nos tornava parecidos, quase gémeos. E tu, com brejeirice, respondias que a nossa irmandade era real, pois até os nossos apelidos eram iguais…
Agora quero falar-te dos sonhos que acalentámos juntos, Ana.
Como eram variados, grandiosos, tão cheios de simplicidade, mas que, no entanto, engrandeceram a nossa felicidade em permanente construção?
Um deles, era o de possuirmos uma fazendinha, onde a Natureza fosse a rainha incontestável. Onde a respiração das ervas no prado orvalhado tivesse a frescura do hálito perfumado de beijos leves. Onde os sons discretos do bosque, fossem como os sussurros e os murmúrios das folhas das árvores e das flores estremecidas pela brisa suave e morna. Imaginávamos a água dos regatos a deslizar mansa pelas verduras onde pastassem alguns animais sob o olhar luminoso do sol. Esse quadro idílico teria como fundo sonoro o cântico das aves que suavemente quebrava o silêncio da paisagem campestre.
Outro sonho, era o de construirmos uma casa na montanha, que seria o nosso ninho feito com pedaços de arco-íris e fragmentos de céu azul, onde uma pequena cascata, despenhando-se sobre as pedras musgadas salpicava com a sua água fria e pura as avencas agradecidas.
Da varanda, impregnada com o odor das flores silvestres e dos frutos tropicais, olhávamos os quentes e coloridos pores-do-sol que iam alongando as sombras nas montanhas distantes e transmitindo-nos uma sensação de paz, quietude e beatitude. Era o momento em que toda essa beleza circundante nos convidava ao amor desinibido, integral.
Nessa casa, a porta estava sempre aberta e não tinha trincos nem fechadura, pois seguíamos respeitosamente o verso da canção ‘venha e entre quem vier por bem’. A sala de estar era o santuário da amizade, onde recebíamos os nossos amigos, familiares e visitantes ocasionais.
Era aí que se desenrolavam as inúmeras conversas sobre arte, literatura, música e política. Este último tema atraía-nos particularmente, pois todos tínhamos consciência de que as desigualdades sociais existentes no mundo são demasiado evidentes e excessivas. A pobreza, a fome, o abandono das crianças que pululam pelas ruas em total indigência, a falta de escolaridade e assistência médica eram temas que estavam sempre presentes. Também a ganância absurda, a destruição da natureza, a sede do poder e a exploração exercida sobre o povo humilde levavam-nos sempre a opormo-nos à corrente dominante e a lutar por um mundo mais harmonioso e fraterno.
Sabíamos que não iríamos mudar o mundo, mas queríamos que houvesse uma consciencialização alargada de que “os pobres não são pobres porque Deus quer, mas porque as circunstâncias os fazem pobres”, como dizia um dos nossos grandes amigos.
A música estava sempre presente como elemento aglutinador da alegria e do convívio fraterno.
Diziam-se poemas, cantava-se, tocava-se, e as canções de cunho social e político – “Para não dizer que não falei de flores”, “Hay un niño en la calle”, “Comandante Che Guevara”, “Blowin’ in the wind”, “Traz outro amigo também”, “Hino dos mineiros Asturianos”, “Apesar de você”, “Bella Ciao”, “Monsieur le Président”, e tantas outras – alimentavam a nossa vontade de lutar contra as injustiças, que proliferam impunes por todo o lado, bem como a nossa solidariedade para com os oprimidos do mundo. Por tudo isso, carinhosamente, todos os que frequentavam a nossa casa chamavam à nossa sala de estar o cantinho da liberdade e da amizade, e nós, Ana, sorríamos enaltecidos.
Outro dos nossos sonhos ainda era o dos imaginários passeios pelos bosques, numa simbiose perfeita com a Natureza intocada, onde o sol fazia cair uma folhagem de pequeninas estrelas nos teus olhos, como se fossem as luzes da felicidade que te incendiavam a alma. Quando caminhávamos nós não tínhamos lugar nenhum para ir, no entanto, sabíamos que todos os lugares eram o nosso luminoso destino.
Foi durante esses passeios, quase edílicos, e cercados pela paisagem deslumbrante, que descobrimos a unidade perfeita e evidente da Natureza e Deus.
Havia ainda aqueles momentos de introspecção e devaneio que nos transmitiam paz e tranquilidade, principalmente quando nos quedávamos em frente ao inescrutável mar de tantos matizes, que se estendia imenso, à nossa frente, desenhando uma linha ténue que separava o planeta Terra do azul infinito do céu. Aí, nas cálidas noites, quando o silêncio pairava e a lua cheia flutuava sobre o manto líquido até à linha do horizonte próximo, nós, simples mortais… apaixonados, penetrávamos no mistério da beleza única e ideal do poema da criação.
Recordo-me também de outros momentos em que o prazer que sentíamos se localizava, quase, na esfera da transcendência.
Sempre que podíamos, destinávamos as noites de sábado para ver vídeos de concertos de música clássica e de ópera. Espalhávamos grandes almofadas no chão da sala e, assim, de modo informal e descontraído, deixávamo-nos inebriar pela música fantástica de Mahler, Shostakovich, Smetana, Tchaikovsky, Beethoven, entre tantos grandes compositores; outras vezes, deixávamo-nos levar pelas múltiplas artes da representação, canto, dança e música, que víamos em óperas como ‘O Barbeiro de Sevilha’, ‘Aida’, ‘Quebra-Nozes’, ‘La Traviata’ ou ‘Peer Gynt’, a nossa ópera preferida.
Estou a recordar-me agora das viagens que nós fizemos, Ana?
Como os antigos exploradores, também nós gostávamos de nos deslocar pelo desconhecido. Agradava-nos ver outras gentes, outros céus, ouvir linguagens diferentes, apreciar outras culturas. Os locais que visitávamos eram sempre o outro lugar onde gostaríamos de viver.
Começámos por explorar as praias do vasto litoral que, no teu país, são inúmeras e lindíssimas. A Natureza, ali, foi pródiga e as paisagens são exuberantes e cheias de cor e vida. O sol, presente durante praticamente todo o ano, envolve-nos numa atmosfera agradável propícia ao amor.
A nossa apetência pelo mundo natural levou-nos então à descoberta do interior, onde as montanhas, os rios, as cascatas, os bosques, as florestas e as campinas eram motivo para grande deslumbramento, e onde encontrávamos sempre gente de vida tranquila e simples.
Depois veio a tua primeira viagem à Europa e, particularmente, a Portugal. Logo à chegada, sentiste – como me confessaste – que a seiva, que ascendia pelas raízes profundas daquele chão antigo, se misturava estranhamente com o teu próprio sangue.
Tudo o que vias te agradava. Eram as paisagens, o azul intenso do céu, a história que emergia de cada pedra, o cheiro doce das uvas, a alegria simples do povo. Exultaste, com lágrimas nos olhos, particularmente quando chegaste à pequenina aldeia onde o teu pai nasceu. E eu sei que saíste de lá outra pessoa. A tua mentalidade sofreu, ali, uma metamorfose admirável. A mulher que eras, onde ainda existia alguma da futilidade imposta pela sociedade moderna e consumista, deixou de existir naquela ignorada aldeia. Compreendeste ali a relação uterina entre o homem e a terra e, talvez, ali tenhas sentido, no esplendor da natureza intocada, a presença oculta da divindade.
Seguiram-se várias outras viagens pelo velho continente, mas nelas não te senti com o mesmo entusiasmo inicial. A Europa que então descobrias, embora tenha sido o berço de várias civilizações, repleta de belas paisagens, de povos diversos, de cidades, de cultura, suscitava-te apenas a curiosidade de pisares e veres lugares que a História menciona. Era evidente que, apesar de toda a grandiosidade dos palácios, museus e catedrais, que vias por todo o lado e que te deslumbravam, imagino que sentias a falta do aconchego da terra quente do teu mundo, quase primitivo, das suas florestas verdejantes, rios imensos com cataratas monumentais, prados a perder de vista, povos ancestrais e o sol, esse teu luminoso sol tropical, que tu reverenciavas como a um deus.
Entretanto, eu, que muito antes de nos conhecermos, já tinha uma paixão avassaladora por África, fazia questão que tu tivesses contacto com esse continente que sempre me fascinou.
Assim, o teu baptismo africano teve lugar em Marrocos, o país mais ao norte de África e mais próximo de Portugal. Depois visitámos a Tunísia. Estes dois países possuíam uma cultura completamente diferente de tudo o que tu conhecias, e eram bem diferentes da África tropical, onde eu sabia que irias encontrar algumas semelhanças com o teu próprio país. O destino não quis que isso viesse a acontecer e tu nunca chegaste a conhecer a chamada “África Negra”.
Para nós, o prazer específico da viagem estava em tornar sensível a diferença entre a partida e a chegada, tão profunda quanto possível, e senti-la na sua totalidade, intacta, tal como estava no nosso pensamento quando a imaginação nos transportava até ao lugar desejado.
Cada viagem que fazíamos, geográfica ou mental, era sempre ao país das origens, ao lugar do sonho, bem como uma busca de nós próprios e da memória. Eram um inconsciente sonho de fuga, um desejo de sair dos nossos contextos e um propenso estado de espírito.
Na nossa bagagem levávamos sempre um acessório que julgávamos fundamental e imprescindível: a alegria. Caminhávamos pelas novas paisagens com um sorriso nos lábios ou com uma gargalhada jovial, que soltávamos em uníssono e que ecoava, livre, pelos ares. O mundo, então, sorria-nos, retribuindo.
No entanto, quando regressávamos de viagem havia sempre uma nuvem de nostalgia no nosso olhar e uma indizível sensação de perda. Lembras-te? Parecia-nos que tínhamos deixado para trás uma parte de nós mesmos, irrecuperável.
Ana, mudando de assunto: jamais esquecerei a dedicação com que cuidaste de mim, após aquele acidente que me imobilizou durante vários meses. Eras tu que me davas a comida à boca, que me lavavas, que me viravas na cama, que me acarinhavas, que me davas esperança na recuperação, que me lias o manuscrito do livro que eu andava a escrever e que escrevias o que eu te ditava – ainda guardo, como uma relíquia, essas folhas com a tua letra bonita. Notava e percebia, então, nos teus gestos, no teu olhar e no teu querer, uma ternura limpa da calorosa eloquência do mundo, que me fazia amar-te ainda mais.
Tu vivias a vida com intensidade e paixão espantosas. Tudo te merecia uma dedicação especial, que se manifestava na relação com os meus e os teus filhos, que, embora distantes de nós, estavam presentes no teu pensamento, em todos os momentos. Tinhas a convicção inabalável de que para estar junto não era preciso estar perto, mas sim do lado de dentro. Dizias que o amor que lhes dedicavas era filho da compreensão e que era tanto mais veemente, quanto a compreensão era exacta, pois acreditavas que quanto maior o conhecimento recíproco, maior era o amor.
Lembro-me de como a tua alegria de viver era tão grande que se tornava contagiosa para quem te conhecia e contigo privava. Os teus ditos eram tão naturais e engraçados que todos os assimilavam e repetiam. As conversas que decorriam, muitas vezes impregnadas de cultura, à tua chegada cessavam só para te ouvir falar num tom alegre e descontraído.
Durante toda a nossa convivência, senti-me sempre a viver em tempos de total confiança contigo, sem reservas nem cálculos, porque a honestidade emanava de ti, poderosa, límpida, palpável.
Enfim, Ana! Esta foi a viagem possível pelo nosso passado. A minha memória começa a fraquejar e eu sinto-a já a caminhar pelas inevitáveis veredas da decadência. Antes que ela me abandone completamente, e me deixe afundar na escura e total solidão quis, com esta carta, resgatar o que me fez ser feliz contigo.
Jamais te esquecerei, Ana, mulher minha.
Reinaldo Ribeiro
17DEZ2022