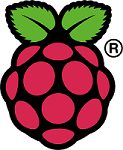Goa + 3
Esta minha viagem começou no aeroporto de Kai Tak, o antigo aeroporto de Hong Kong, que permitia as chegadas e partidas mais espetaculares do mundo, rasando os arranha céus.

Na pista, o avião da Air India esperava-nos com o detalhe das suas janelas decoradas como se fossem parte de um qualquer haveli. No entanto, ao começar a subir as escadas de acesso, foi o forte cheiro a caril que nos atingiu, como o bafo de uma fera.
Chegámos a Bombaim a meio da tarde. Eu e o meu primo que na altura vivíamos em Macau, por ali aguardámos a chegada do meu amigo RM que vinha de Lisboa para se juntar a nós num pequeno périplo por Goa e três cidades sagradas no estado contíguo de Karnataka.
O plano era ficarmos pelo aeroporto até à chegada do avião vindo de Lisboa. O aeroporto de Bombaim é vasto e tem aquele toque meio luxuoso, no caso também meio arruinado, que sobreviveu aos tempos em que viajar de avião era coisa de elites endinheiradas. As companhias aéreas até ofereciam sacos de viagem…
Um detalhe desse toque era a casa de banho, toda em negro, pavimento, revestimento e sanitários, mas já com quebras, aqui e ali, que faziam surgir um branco estranho à decoração.
Enfim, deambular pelas gares aeroportuárias a fazer tempo é algo mais frequente do que os programas de passageiro frequente. Claro que olhar para as pessoas que passam, ou as que se arrastam como eu, é um passatempo mais frequente do que… enfim, vocês sabem.
A quem não passei despercebido foi a um dos bagageiros que andava a empurrar, por vezes a puxar, um carro com algumas malas. Também ele à espera de um voo, no caso, oriundo dos EUA, com alguns passageiros que já tinham contratado os seus serviços.
De onde vens tu? Perguntou-me calmamente. Macau, respondi. Como evidentemente não era chinês, de imediato deduziu que eu era português. Deu-me as dicas do costume, Eusébio e Amália, o tempo de Cristiano Ronaldo ainda não chegara. Mas depois passou a coisas sérias: “fizeram lá uma revolução há alguns anos, não foi? Despacharam o ditador, como se chamava ele? Salamar?” “Não, chamava-se Salazar”, corrigi. “E sim, foi uma revolução em paz, não morreu quase ninguém”.
Perante o interesse do bagageiro, contei-lhe os vergonhosos disparos da PIDE que causaram os únicos mortos da revolução. Antes que tivesse tempo para lhe perguntar sobre a imensa e complexa democracia indiana, ele começou a falar sobre as tensões no Comité Central Chinês, na altura ainda na influência dos famosos 8 anciãos que garantiram o poder após a morte de Mao, um dos quais, Yang Shangkun, que era o presidente na altura.
Impressionante conversa, na verdade. O homem tinha uma informação imensa sobre todo o mundo em que vivia. Coisa que não se encontra facilmente nos grandes países, como os EUA ou a China. Não sei como será na Rússia.

Chegado o amigo, fomos para a monumental estação de comboios de Bombaim – na verdade Mumbai – que podia muito bem albergar um enorme museu, todo um governo, ou mesmo um pequeno país… e ala para Goa!
O comboio foi uma aventura, para nós, para quem nos rodeava – e eram muitos – e também para as galinhas e cabras, que foram as únicas que não fizeram questão de falar connosco.
Viajar de comboio tem sempre esta componente social que, na minha opinião, só aumenta o seu interesse. Ao espaço ferroviário desta socialização, na Índia, acresce ainda o tejadilho do comboio, também repleto, mas com as galinhas e cabras devidamente acondicionadas em enormes gaiolas de vime, ou atadas – as cabras – que nem chouriços no fumeiro.
Conhecemos alguns soldados – jovens mariolas – sorridentes, com aquele jeito especial indiano de abanar a cabeça, parecendo um não, mas sendo, afinal um sim, ou pelo menos, aquiescência.
Famílias desejando partilhar as suas refeições, mesmo contra o nosso semblante reticente, de ocidentais tenrinhos que queriam tudo menos uma diarreia ou, pior ainda, uma hipotética passagem por um hospital, que, pelo contrário, significaria simplesmente uma passagem aérea para Portugal.
 Chegámos a Goa e ficamos em Calangute, essa mesmo, a do Gama. No nosso caso, ficámos nuns bangalós na praia, com o mar em estado de rebeldia, violento e completamente inóspito a banhos. Nem mesmo a pensar nisso.
Chegámos a Goa e ficamos em Calangute, essa mesmo, a do Gama. No nosso caso, ficámos nuns bangalós na praia, com o mar em estado de rebeldia, violento e completamente inóspito a banhos. Nem mesmo a pensar nisso.
Contudo, apesar do som omnipresente da rebentação, bélica, dia e noite, Calangute estava aberta a passeatas e, numa delas fomos dar a um grande salão de café – fechado naquele tempo de monção – mas onde se podia ainda ver, tapado e arrumadinho num canto do palco, o PA (Power System, amplificadores e altifalantes) que os Rolling Stones lá deixaram umas décadas antes.
Era uma relíquia, um item museológico, do tempo em que a juventude acreditava que podia mudar o mundo para melhor. A parte de ser para melhor foi claramente interpretada pelo “sistema” como para melhor para alguns, e que se focou na guerra contra a parte de “mudar o mundo”.
Enfim, chegado o dia, despedimo-nos de Calangute e, alugando os serviços de uma Bajaj que poderia ser uma versão de uma Vespa Ape, um triciclo avantajado com caixa de carga, lá nos acomodámos como pudemos – como foi mesmo? – e seguimos para a capital de Goa: Pangim.
Ficamos num excelente hotel de 3 estrelas, gerido por uma família goesa que, de imediato, nos tomou nas suas graças, especialmente depois de lhes dizermos que queríamos alugar um carro e conduzirmos nós próprios pelo estado vizinho de Karnataka.
Ganhámos imediato atestado de loucura perigosamente delirante. “Sem condutor?” Perguntaram incrédulos. Pois, isso mesmo, uma aventura! Ora, ficou de imediato decidido, apesar de nós não termos bem consciência disso, que eles iriam tomar conta da logística da expedição.
Os jantares no hotel acabaram por ser uma das ocasiões mais fecundas, quer pelo saboroso e variado repasto, quer pelas conversas com os donos, que nos falaram muito da situação da comunidade goesa, identitária herdeira histórica da presença portuguesa e da matriz cristã, ameaçada pelo contínuo crescimento do extremismo Hindu.

Conscientes da “loucura que foi criar a inquisição aqui, numa terra que pouco antes era tudo menos cristã. Loucura que incluiu a sua dose de autos de fé”, a identidade era aquela, nada a fazer, e os nossos amigos assumiam-na por inteiro, reticências críticas incluídas.
A estadia naquele hotel foi uma janela escancarada para a atualidade goesa, aparentemente pacífica, mas com imensas nuvens negras a acumularem-se no horizonte. E não era a monção.
Porém, até à partida, havia o magnífico estado de Goa para explorar, com igrejas, fortalezas, comida extraordinária e livros. Mas vamos por partes.
Pangim é uma cidade extraordinária e não há qualquer novidade nessa afirmação. Toda a gente sabe que há algumas cidades no planeta com esse espírito eclético e agregador de culturas e religiões, cidades com uma riqueza em que se tropeça em cada passo. Pangim é assim.
Igrejas, como a catedral, consagrada à Imaculada Conceição de imponente escadaria, construída muito mais tarde, já no século XIX, lembrando as escadarias de Lamego, Braga, etc. traduzindo em arquitetura a elevação que um templo deve significar.
Não deixava de ter um forte impacto, aquela escadaria ali, no coração do oriente.
Mais à frente, continuando na mesma margem do Mandovi, um imponente templo hindu, com vista para o estuário. Local de ambiente pacífico, convidativo a nos sentarmos no chão, contemplando a foz do rio. Contudo, antes do mais, antes de entrar no templo, havia que tocar a sineta para avisar os deuses da nossa chegada.
E assim foi.
Completando o mosaico religioso indiano, também mesquitas apareciam. Várias, mas, naturalmente, não podíamos passar a porta, restando-nos contemplar o mar de sapatos deixados por quem podia entrar.
Mais do que uma vez, na rua, fomos parados por goeses que, ouvindo as nossas conversas e apercebendo-se que eramos portugueses, queriam falar connosco, partilhar o que quer que fosse. Éramos irmãos. Numa situação, tivemos que nos empenhar para que uma família não abrisse a sua garrafa de vinho do Dão em nossa honra. A garrafa ocupava um lugar de destaque por cima do louceiro. Parecia uma santa. Que não, pedimos, que a guardassem para o Natal. E assim foi.
Uma das minhas relíquias comprei-as em Goa, que tem o cuidado de continuar a imprimir os clássicos portugueses: Lendas da Índia, de Gaspar Correia, 4 volumes pesadamente encadernados. Apesar disso, como poderia resistir? Lá foram em bolandas pela Índia fora, para Portugal e depois, para a China e anos depois, de contentor pelo Suez, de regresso a Lisboa e, sobrevivendo a várias mudanças, para a minha sala na Costa da Caparica. Uma outra versão de peregrinação…
Nos nossos passeios pela marginal do rio Mandovi, assistimos ao desembarque do ferry – que não conseguia atracar porque estava uma vaca deitada ruminando pachorrentamente na rampa onde era suposto saírem passageiros, motociclos e tudo o mais. Teve o ferry de ir procurar atracar uns metros abaixo, nada a fazer. É aqui que as vacas são sagradas…
 As vacas têm esse estatuto, essa adoração, porque é nelas que todos os deuses reincarnam. Em caso de necessidade, está bem de ver. É bom não esquecer que a Índia tem incontáveis deuses, milhares deles, não há sequer número certo.
As vacas têm esse estatuto, essa adoração, porque é nelas que todos os deuses reincarnam. Em caso de necessidade, está bem de ver. É bom não esquecer que a Índia tem incontáveis deuses, milhares deles, não há sequer número certo.
Outra coisa que descobrimos, já no descanso dos nossos quartos, é que são as vacas – e não os cães – que atacam os latões do lixo. Está bem de se ver que isto é um confronto violento, com os latões a rebolarem, quando não a voarem, com uma cornada bem assente.
Barulhão noite dentro para regozijo dos corvos, que, mal amanhecendo, em revoadas – também ruidosas – atacam deliciados os despojos. “Os corvos são o serviço de limpeza da Índia”, disseram-nos.
Com a data de partida já próxima, a família do hotel fez questão de nos arranjar uma trouxa com lençóis e desinfetante – de que viemos a compreender a necessidade mais tarde – e tivemos de parar aqui, porque já ia nos talheres, almofadas, enfim, um sem número de itens que exigiriam uma camioneta.
De uma coisa não abdicaram: uma grade de garrafas de água de litro e meio. Ainda tentámos resistir, mas teria de ser adquirida na farmácia. Percebemos depois que nem aí. A água que lá comprámos tinha imensa terra e outros nadadores lá dentro. Havia um furinho na tampa que denunciava a moscambilha. Lá voltámos para a reclamação e assistimos à exemplar tapona que o jovem assistente levou.
Chegou então o dia que fomos levantar a nossa fantástica viatura, um Fiat Padmini, um carro tipo Morris Minor (não mini!) que parecia ter surgido diretamente de uma máquina do tempo de várias décadas no passado. Lembro-me até de ser prémio num sorteio entre os leitores do Cavaleiro Andante…
Eram tão raros os alugueres sem condutor que a agência tinha um repórter a filmar a entrega do carro. Só para gozar, em vez de arrancar em frente, fi-lo em marcha atrás para nos rirmos todos um bocado. Funcionou.
E lá fomos.

Acontece que o estado de Karnataka, onde se situavam as 3 cidades sagradas que nos propusemos visitar, é um imenso planalto. Para lá chegar, havia que subir a bem subir e nem sabíamos se o nosso fiel Padmini estaria nos ajustes. Mas esteve.
Foi é demorado.
Chegamos á fronteira com Karnataka, perto de Dharwad, parámos num café ao lado do posto fronteiriço. Já sabíamos que iriam encontrar alguma razão para pagarmos. Não sabíamos qual razão, nem sabíamos quanto pagaríamos. Deixámos os documentos para os polícias decidirem, o que não parecia fácil. Ficaram nas suas conversas e fomos tratando das barriguinhas.
No restaurante, havia pão numa pilha e havia omeletes noutra. Pedimos então para nos abrirem o pão e colocar uma omelete no meio. O empregado olhou para nós, para o pão, para a omelete e fez-se luz, a sua cara incendiou-se e os seus olhos brilharam com à luz daquela ideia.
Será que tínhamos acabado de criar ali a sanduíche de omeleta?
Entretanto, de novo com os guardas da fronteira, pediram-nos 200 rupias porque o visto não incluía Karnataka. Era um visto para a India mas não incluía Karnataka… desatámos todos a rir, incluindo os guardas. No fundo, tratava-se de menos de dois euros, para quê discutir?
Chegámos finalmente ao nosso lar em Hubli, mais precisamente à sua ilustre pousada de juventude. Era tão movimentada que o seu rececionista, bagageiro, cozinheiro e diretor ficou espantado e precisou de confirmar: querem mesmo ficar aqui? Queríamos.
Explicou-nos então que só havia um quarto. Foi a nossa vez de confirmar. Só um? Pois, mas tinha 18 camas.
Abriu a porta para uma camarata imensa, maior que toda a minha casa, com as tais 18 camas, que na verdade eram 18 beliches triplos para um total de 54 pessoas. O quarto, enorme, tinha 3 janelões gradeados para um átrio arborizado.
Ao aproximar-me do janelão o responsável admoestou: “cuidado com os macacos!”. Havia de facto macacos curiosos em algumas das árvores. “Eles conseguem entrar?” perguntámos. Experimentei as enormes e grossas barras de ferro. “Não entram, não, mas conseguem meter os braços pelas grades a roubar o que estiver à mão” respondeu.
Ficámos meio assarapantados, os macacos não estavam previstos, mas tivemos a presença de espírito suficiente para falar no jantar. Onde poderíamos encontrar um restaurante? Confirmou que seria ali mesmo, pois então!
Foi então que descobrimos a casa de banho, mais do que básica, sem sanita, claro, com aquela coisa no chão, a bacia turca, plantada num canto de um salão enorme, gigante, mesmo. O duche, cano que caía do teto, num outro canto da sala, sem qualquer demarcação, degrau ou, sequer, mosaico diferente. Apesar do seu gigantismo, a verdade é que era casa de banho para uma única pessoa de cada vez…
Tudo naquela casa de banho pedia, exigia mesmo, o desinfetante que os nossos amigos goeses forneceram. De resto, era uma evidência que também os beliches agradeciam os lençóis. Graças totais devidas aos nossos anfitriões goeses.
Evidentemente, a fome apertou e depois da higiene pessoal, fomos para a sala de jantar.
Não sei que ilusão nos acometeu para pensarmos que havia menu. Não havia. De resto, até parecia que não havia comida. “Mas… mas”, balbuciámos, “Foi o senhor que nos disse para jantar aqui…” O homem acabrunhou-se ainda mais. Depois balbuciou que podia, talvez, arranjar uma galinha. Entreolhámo-nos. Uma galinha não era mau. E ovos? Atacámos. Que ia ver. Viu. Até havia.
Esperámos, esperançosos.
E esperamos.
E ouvimos o cacarejar aflito de um galináceo que adivinhava ser ele o jantar.
E esperámos.
E esperámos já suspeitosos e desesperançados.
Mas veio.
Ovos sim, uma meia dúzia, mas a galinha, nem frango era, quase pintainho de calças arregaçadas, sem coxas que se vissem. Era uma coisa mais pelintra e esfomeada que nós. Pouco mais tinha do que ossos.
Vinha de fricassé, para disfarçar, com terrina generosa de arroz alvo. Enfim, dividimos a molhanga do fricassé, mais uns ossos, para dar sabor ao arroz e ilusão de carne e lá marchou, e foi tapando o lugar no estômago reservado ao jantar.
O lado bom é que foi rápido.
Voltamos à caserna, ao casarão que servia de quarto. Ainda colocámos a hipótese de jogar aos 5 cantinhos. Espaço havia, jogadores é que não.

De manhã, tomado o pequeno-almoço muito frugal, que reforçámos depois num café a caminho, saímos em busca da primeira das 3 cidades sagradas: Pattadakal.
Pela estrada seguia, seguramente, metade da Índia: aldeões, búfalos, motoretas, veículos inidentificáveis… e, de tempos a tempos passavam os gigantes Tata que faziam tremer o macadame e, jurava, o céu e as nuvens. Até as árvores se afastavam!
Juro, mas juro mesmo que o nosso Fiat Padmini se encolhia. Não cabia um desmesurado camião Tata e nós ao mesmo tempo no estreito asfalto, e sair dele não era nada boa ideia. Mas passávamos. Como?
Chegamos a Pattadakal, Património da Humanidade, um grande conjunto de templos hindus e também budistas, mas que inclui dolmens e até pinturas rupestres, tudo num recinto fechado, com bilheteira na entrada.
O complexo foi construído entre os séculos X e o IV antes da nossa era. A maioria dos templos são dedicados a Shiva, mas existem também templos jainistas e também dedicados a Shakti, a religião onde todas as divindades são mulheres.
Pattadakal significa “Trono da Coroação” e, como o nome indica, era o local onde os soberanos da dinastia Chalukya eram coroados. Esta dinastia dominou o centro e sul da Índia durante os séculos VI e XII, portanto, muito depois da sua construção.
À entrada do recinto, uma nuvem de guias estava alerta, para o assédio feroz a quem ousasse tentar entrar, que não eram muitos. Por outras palavras, eram mais os guias do que visitantes.
Como estávamos verdinhos na Índia, escolhemos um guia, não sei com que critérios, e entrámos.
O guia insistiu que não se devia iniciar a visita no templo que estava logo ali. Pelos vistos, sempre vai havendo alguma ordem no caos.
O guia ia perorando explicações sobre tudo o que os nossos olhos alcançavam e até sobre o que não conseguíamos lobrigar e que, invariavelmente, pedíamos para repetir. “Esta é a figura da terceira encarnação de Rama e a sua esposa… já aqui, esta é a figura do rei dos macacos Hanuman, que ajudou Rama a recuperar a sua esposa raptada… Esta sala representa uma história clássica do Ramayana”, e por aí fora, com as esculturas de incontáveis reencarnações dos deuses hindus que, como já referi, são imensos”.
“Este painel – continuava o guia – conta a história de Ganesh, que teve origem numa situação em que o pai, Shiva, de regresso de uma das suas deambulações divinas, encontrou a sua esposa, Parvati, agarrada a um homem. Como ele estava de costas não reconheceu o filho e de um só golpe, cortou-lhe a cabeça. Depois, após as explicações de Parvati e horrorizado com o feito, cortou a cabeça a um elefante e colocou-a no filho: eis que nasce Ganesh, uma das divindades mais presentes em toda a Índia, corpo de homem, cabeça de elefante.”
Longas, intermináveis explicações, sala após sala, edifício após edifício, tudo ornamentado, quase gongórico, deuses ao lado de deuses, por cima de outros deuses, todos, mas todos, demonstrando a alegria e felicidade do seu estatuto divino. Recostados, encostados a varões, sorridentes e felizes… É bom ser Deus na Índia.
Especialmente para nós, cujo símbolo religioso é um homem sofredor, escorrendo sangue, pregado numa cruz, com uma coroa de espinhos na testa e uma ferida no abdómen, era toda uma outra visão do divino. Para nós, ser Deus é sofrimento e punição.
Isto, para não falar do sexo, claro. Tabu para nós, tão natural para eles, tanto para humanos como para divinos…
Quando chegávamos a uma das salas mais tântricas, o guia avisava: “E aqui é a parte do sexo” como se não fosse uma evidência.
Não havia uma, mas muitas salas dedicadas ao erotismo ou simplesmente ao sexo. A partir das primeiras, o guia apenas anunciava: “E mais sexo”, ou ainda mais simplesmente, “sexo…” com um gesto largo abrangendo paredes e teto.
Apetecia-nos deambular pelo recinto sem ter de seguir uma ordem determinada. Pagámos ao guia para se ir embora, que cumpriu satisfeito, depois da surpresa inicial, e por lá ficámos, procurando sombras e imitando os deuses.

Tentámos dormir perto de Badami, o nosso próximo destino, a próxima cidade sagrada e que é muito perto de Pattadakal.
A viagem decorreu em alguns minutos e sem incidentes. Encontrámos um pequeno, minúsculo hotel – mas com mais de um quarto – e fomos explorar Badami.
Comparando com a nossa cidade sagrada anterior, Badami é muito menor, rodeando um lago, com templos construídos na sua margem mas, muito especialmente, com grutas esculpidas na rocha que se ergue com alguma imponência espelhada nas águas tranquilas.
Em vez dos guias, havia muitos saddhu – ascetas mendicantes, muitas vezes considerados sagrados – com a sua face branca, de cinzas, vestidos com uma tanga e, alguns, completamente nús.
Bastava um olhar para perceber que não poderíamos dar esmola a todos. Naturalmente não demos a nenhum.
Deambulámos pelas margens do lago, especialmente nas escadarias, vendo o movimento, com saddhus a tomarem banho e mulheres lavando roupa, enquanto os peregrinos subiam às cavernas, o que acabámos por fazer também.
Estavam repletas de frescos, a maioria dos quais já não eram visíveis e outras com muita dificuldade, a começar pela deficiente iluminação.
Badami foi capital do império da dinastia Chalukya, no que se afirmou como a idade de ouro de Karnataka e, de maneira geral, do centro e sul da Índia.
Almoçamos numa tasca que, naturalmente, só servia comida vegetariana, de resto muito saborosa e levámos todo o tempo que desejámos, interagindo, como sempre, com todos aqueles que, movidos pela curiosidade, falavam connosco.
De regresso ao carro, que como vemos na foto era completamente branco, e talvez por isso, chamou a atenção de uma vaca que pastava por perto.
Fechámos portas e janelas enquanto ela se aproximava, agitando a cabeça. Não era bom sinal. Estaríamos a ser tomados por uma vaca? O certo é que se ia aproximando e, tentando passar de fininho, não conseguimos furtar-nos a uma valente cornada, por sorte, num dos pneus. Na verdade, os pneus era a inconformidade.
Há que dar razão a quem a tem e, se o nosso humilde Padmini fosse uma vaca – branco já era – o que não estava nos conformes eram os pneus. Nenhuma vaca que se preze os tinha. Até eu lhe daria uma cornada!
Após uma noite bem descansada, voltámos à estrada. Eram perto de 150 km, mas estando na Índia, enfrentando uma estrada infestada de Tatas e búfalos e o mais que aparece, como macacos e, juro mesmo, uma ou outra divindade… enfim, o tempo de viagem era uma incógnita.
Por todo o lado tropeçávamos em tabuletas indicando que, ali à direita, ficava o templo X e, pouco depois, à esquerda, o templo Y. Claro que numa das tabuletas resolvi seguir mesmo em busca do templo perdido.
Não sei o nome. Sei que estava infestado de macacos e tinha, junto ao pórtico, um enorme lingham, a metáfora, em pedra, do princípio masculino. Aparentemente a vegetação (além dos macacos) estava a tomar conta do edificado, com grossas raízes a sobressaírem das pedras.
Não ficámos muito tempo. Havia uma estrada para percorrer, mas os macacos… enfim, não sei qual a maior desconfiança, se nós em relação a eles, ou se eles em relação a nós.
Retomámos a estrada e apontámos para a cidade vizinha, Hospet, onde o guia assinalava um bom hotel de 3 estrelas.
À chegada, um funcionário pediu a chave do carro para o “arrumar” e, segundo nos disse, estaria lavadinho no dia seguinte. E bem precisava.
Ora, o guia não mentia. Era no tempo em que o Lonely Planet era de confiança, não como agora, vendido várias vezes e despojado do seu interesse para os viajantes autónomos.
O hotel, além de quartos amplos, limpos e arejados, tinha, notem bem, gelataria! Pois, isso mesmo, um luxo, mas não só, uma livraria e com serviço de aluguer de livros. Caramba, essa era inimaginável.
Aproveitámos para comprar livros sobre Hampi, edições cuidadas com desenhos cuidados dos monumentos e, confesso, aluguei livros do Timtim. Ah pois!
No dia seguinte fomos para Hampi. Seguimos as indicações, setas para aqui e para ali, e nada. Que diabo.
Estávamos numa estrada numa planície muito grande. Nem um edifício à vista. Havia umas crateras, aqui e ali, mas mais nada.
Entretanto, uma pequena camioneta passou por nós e parou junto a uma das tais crateras. Saiu uma dúzia de turistas e por ali ficaram a olhar para baixo. Seria um lago?
Não era. Seguimos o exemplo e ficamos deslumbrados. Hampi era uma cidade escavada no solo. Mas a dimensão… só para perceber, até estábulos de elefantes havia. ELEFANTES!
Sempre, portas, janelas, balcões, tudo rendilhado e apregoando labor e arte aos quatro ventos.
Hampi foi a capital do império Vijayanagara de 1336 to 1565. Nesta época já havia relatos portugueses sobre esta cidade e, especialmente, a sua opulência.

Tratava-se da segunda maior cidade do mundo, apenas atrás de Pequim. Claro, acabou destruída por guerras consecutivas, já no século XVI. E assim, arruinada, ficou até aos dias de hoje.
Ficámos dois dias consecutivos a passear por um e outro lado, corredores atrás de corredores, apreciando a sombra e os visitantes, os relvados… Um mundo que escapava para quem olhasse desprevenido.
Está bem, a parte do conforto do hotel, com gelataria e tal, também teve a sua importância na nossa decisão de fazer a viagem de volta num tirinho. Pois, um tirinho…
Saímos de manhã bem cedo, com o carro imaculadamente lavado e fizemo-nos à estrada.
Tatas, carroças, búfalos, elefantes (ah pois é) tudo andava pela estrada. E nós também, claro.
Corria tudo bem até o nosso até então fiel Padmini parar. Parou e mais nada.
Felizmente, aconteceu no semáforo de uma cidade. Não sei qual, sinceramente.
Por reflexo, encostei e abri o capô. Isto foi o gatilho para duas coisas surpreendentes acontecerem. A primeira, ao olhar para o conteúdo do motor, fiquei espantado com o tamanho do motor. Melhor dizendo, o tamanho do vazio, porque o motor, enfim…
A outra coisa espantosa é que vários indianos me cercaram de imediato, olhando o motor. Eu de motores percebo tanto como de exploração das planícies marcianas, mas, eles não. Para eles o motor do Padmini não tinham segredos.
Em menos de 10 minutos, sem necessidade de qualquer peça, o bom do Padmini já ronronava. O problema tinha sido… uma coisa. Explicaram-me em várias línguas, até. Mas entre os ouvidos e o engenho da cognição… não sei se havia vento, ondas ou o voo dos flamingos. Portanto, amigos, foi uma coisa… e resolveu-se.
Continuámos viagem, estrada fora.
As paisagens na Índia, têm aquele toque mágico de esbaterem o horizonte, parecendo que quanto mais longe mais as coisas ficam difusas, como uma fotografia com demasiado grão.
Entretanto, como seria de esperar, a noite caiu.
Perseguindo a luz dos faróis, que não eram grande coisa, lá fomos avançando, temendo os poderosos camiões Tata, claro, mas, muito mais ainda os búfalos.
Esses simpáticos mamíferos têm a mesma cor da noite, um cinzento escuro, indistinguível da estrada e do breu noturno. Além disso, como é sabido, os seus traseiros, volumosos, não têm farolins nem refletores, o que faz deles uma surpresa desagradável.
Para piorar tudo, os búfalos viajam de noite, mas não sozinhos. A forma como se deslocam também não ajuda. Parece que só um sabe o caminho, o do meio. De um lado e de outro, vão-se encostando uns aos outros e é fácil de encontrar cinco ou seis viajando assim.
Por outras palavras, podem ocupar toda a estrada. E sem qualquer sinal deles.
Chegámos à fronteira com o estado de Goa e, desta vez nem pediram os passaportes. Siga!
A descida do planalto de Karnataka era íngreme e sinuosa. Realmente, era a mesmíssima que subíramos uns dias antes, mas de noite e já cansados de um dia no carro, foi mais difícil.
Mas fizemos tudo direitinho. Ou quase, se descontarmos uma saída que saía para lugar algum.
A verdade é que o nosso precioso hotel de Pangim, graças sejam dadas aos seus proprietários, apareceu no fim da viagem. Estranho seria se aparecesse antes.
Fomos acolhidos… bem, em apoteose. Todos nos vieram felicitar. Ficaram descansados com o nosso regresso.
Até parecia que tínhamos escalado o Evereste.