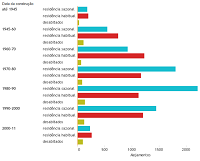Natal em Chiang Mai
Para quem, como eu, vivia em Macau, passar o Natal na Tailândia era como ir ao Algarve. O Natal era o verão na Tailândia ou nas Filipinas. No nosso verão era lá a época dos tufões e da chuva.
Não é que na época das chuvas não se fizesse lá praia e tudo o resto. O clima ali era quente e as chuvadas, apesar das gotas de litro e meio, não duravam 5 minutos a evaporar. Além disso era quente, mais do que em alguns duches.
Seja como for, o Natal seria em Chiang Mai, era esse o programa. Já conhecia o sul da Tailândia e Banguecoque também. Faltava o Norte.
A aventura começou no avião. Quando já nos aproximávamos da capital tailandesa, os passageiros já a preparar-se para a aterragem quando caímos num poço de ar.
Ao contrário do que o descritivo pode fazer crer, um poço de ar, precisamente não tem ar nenhum, o avião cai sem amparo, no puro dos vazios. Não é como nos filmes em que não há gravidade e anda tudo a nadar. Pelo contrário, há gravidade e caímos que nem uma pedra.
Ora nessa altura poucos estavam com o cinto de segurança. Eu estava, estou sempre, a não ser quando vou à casa de banho. Enfim, não há banho nos aviões, pelo menos na turística.
Para azar de um médico também de Macau, era precisamente na casa de banho que ele estava e, na queda desamparada do avião, ele mais desamparado ficou e partiu-se, braço e perna. Acabou ali a viagem e as férias para ele. Voltou de charola para Macau.
Charola é maneira de dizer, foi de avião no primeiro voo, claro.
Banguecoque é uma cidade muito interessante de dia e ainda mais à noite, mas eu fui direito à estação de comboios para seguir para Chiang Mai no comboio noturno.
Como todos os viajantes sabem, os comboios noturnos podem ser uma estratégia interessante para poupar um dia de hotel, são dois em um. A coisa pode correr mal, com uma carruagem-cama com más condições, mas nunca me aconteceu.
A viagem de pouco menos de 700 km demora 9 horas. Na altura pareceu-me muito tempo, mas se pensarmos quanto demora hoje para chegar de Lisboa a Madrid…
A carruagem era confortável, com beliches simpáticos, hospedeiras e serviço atencioso. Quase todos se deitaram e procuraram o sono imediato. Pessoalmente sou um fã das janelas de comboio e da paisagem que passa a correr para trás, direita ao passado.
Como todos armaram os beliches, só me podia deitar, pelo que fiquei deitado a olhar a janela, enquanto havia luz, ou, já depois de amanhecer, quando houve luz de novo.
No breu noturno, de vez em quando, passavam pequenas luminárias que acendiam pequenas casas – ou grandes luzes de cidades.

As casas passavam rápido para o esquecimento. Na Tailândia todas as casas têm uma casinha pequena, um altar, normalmente em cima de uma coluna, num canto do jardim, destinada às oferendas.
São um povo budista muito crente. São também um reino que nunca foi subjugado, pelo que aliam o budismo ao orgulho na sua identidade – sem arrogância – constituindo uma população muito simpática e acolhedora.
Chegados à estação de Chiang Mai e indo direto ao hotel, pousei a mochila e, sem a desfazer, lancei-me de imediato à descoberta, a começar pelo pequeno-almoço.
A culinária tailandesa é excelente, mas para pequeno-almoço sempre fui exigente e, peixe ou carne nunca entram na ementa.
No oriente, nem sempre era fácil esta opção, como por exemplo, na China, fazer essa exclusão de carne e peixe para pequeno-almoço, mas a Tailândia era um destino turístico de primeira em todo o Oriente e não faltavam locais que servissem o pequeno-almoço ocidental, distinguindo até entre inglês e continental, por vezes até americano, com muesli e iogurte.
Para mim, inglês era excelente. Torradas, panquecas, ovos mexidos, café… coisa substancial, que me permitia empurrar a refeição do dia para o jantar, graças a um reforço de sandes, ou o que aparecesse, como almoço.
A cidade antiga de Chiang Mai é uma zona quadrada cercada por um fosso, tipo castelo medieval. Esta configuração podia ajudar na orientação, mas por vezes era desconcertante: o fosso lá estava, mas de que lado era aquele em que estava?
A primeira paragem era o Wat Chiang Man, o templo mais antigo da cidade. Wat, em tailandês, significa isso mesmo: templo.

Fundado em 1296 pelo Rei Mengrai tem uma arquitetura tipicamente tailandesa, com os seus telhados pontiagudos. O santuário central, com enormes colunas de teca, cores predominantes entre vermelhos e dourados.
À direita da sala principal existe um santuário mais pequeno que, entre outras, dispõe de duas imagens de Buda, muito veneradas, protegidas dentro de recetáculos de vidro.
Uma delas, Phra Sila, um baixo relevo em mármore, com 20 ou 30 cm de altura, que representa uma imagem de Buda em pé. A outra, a Phra Satang Man, constitui uma imagem em cristal, muito conhecida e reproduzida, de Buda em meditação na posição de lótus.
Os templos budistas, e os hindus também, são especialmente acolhedores e convidativos, normalmente implantados em espaços ajardinados, com árvores e natureza, num convite a ficar por ali, vendo o movimento de pessoas e monges. Foi o que fiz, sem faltar motivos para a minha curiosidade, até sentir novamente o apelo da cidade.
Comecei a caminhar e comecei também a ouvir, ao longe, o som de um instrumento de sopro, semelhante a um oboé. Caminhei a pensar que seria um concerto ou um ensaio…
Era um combate de boxe, ou Muay Thai. O instrumento chama-se Pi e estavam quatro músicos, dois tipos diferentes de Pi, percussão e címbalos. Esta música específica, que se chama Sarama, varia no seu tempo consoante se pretende um embate mais bélico e feroz, ou coisa mais calma, como era o caso.

Para grande surpresa minha, estavam duas crianças de uns oito anos no ringue, em exercícios de aquecimento. Para aumentar a surpresa, o treinador era um monge budista.
Quando recuperei o meu queixo, descaído com tanta e profunda surpresa, lembrei-me da tradição Shaolin e cogitei que as técnicas de combate, seja Kung Fu, seja Muay Thay, podiam, afinal, ser compatíveis com a serenidade budista. Como? Não me perguntem a mim…
O dia seguinte foi dedicado à selva. Adormeci com os sons do bulício noturno da rua. As cidades tailandesas não dormem com a tradição seguida em todo o Oriente dos mercados noturnos. Era para o lado que eu dormia melhor.
Partimos bem cedo para a tal de selva, num pequeno autocarro que recolhia turistas por vários hotéis. Tínhamos que sair cedo, não é porque queríamos apanhar a selva adormecida, mas sim para disfrutar do banho dos elefantes. Não percebi logo o porquê desta efeméride, só quando os vi.
O santuário era muito mais perto da cidade do que pensava, coisa de 20 minutos de estrada. Tratava-se de um recinto que facilmente seria destruído pelos possantes animais se o quisessem fazer. Vedações de troncos da espessura do meu pulso, uma casa grande e duas ou outras mais pequenas, todas de troncos semelhantes.
Os turistas ficavam pela vedação olhando os animais fazerem algumas habilidades, mas nada de circense. Era tudo mais uma questão de participarem na vida quotidiana do santuário, tarefas como transportar baldes, troncos e coisas assim.
Depois fomos até um pequeno lago onde se procedeu à lavagem dos paquidermes. Esta lavagem incluía rebolar no lago e mangueiradas generosas. Mesmo de trombas, estavam evidentemente felizes.
Curiosamente, o olhar dos elefantes não nos largavam. Que ligação tinham eles com os pequenos e frágeis humanos?
Dúvida: Tinham-nos trazido para vermos os elefantes, ou para os distrair a eles?
Havia uma mansidão eloquente no olhar destes grandes mamíferos, uma espécie de mensagem implícita de paz, de confiança mútua, de partilha da sua casa.
Depois, ainda com a mesma eloquente obediência, talvez melhor ainda, cooperação, pararam por baixo de uma construção em madeira, uma plataforma forrada com mantas e tapetes, pendurada numa árvore e suspensa por cordas. Era uma sela.
Colocavam então a sela entre a cabeça e o dorso, descendo-a da sua pendureza nas árvores: Era então uma sela.
Com um toque no joelho levaram o elefante a prostrar-se, de forma a que o seu joelho fletido fosse o primeiro degrau para o assento no topo do elefante, que acabou por ser uma elefanta.
Não posso dizer que fosse uma viagem muito interessante. A maior parte dela foi dedicada às minhas tentativas desesperadas para não cair da “sela” abaixo, o que seria decerto algo que redundaria em fraturas e outras mazelas. Outro perigo que desafiava a minha atenção era não bater em nenhum ramo de árvore, que passavam perigosamente perto da minha cabeça, o que traria igualmente fraturas e mazelas.
Felizmente, a viagem foi diminuta, coisa de cinco minutos ou pouco mais. A elefanta já conhecia a rotina e, quando terminou o passeio, parou de novo no local onde poderiam alçar a sela/plataforma e ficar pronta para uma nova viagem. Também sabia que teria então direito a várias peças de fruta como recompensa.
E lá fomos de carrinha para a nova emoção: A jangada para descer o rio Mae Wang.
Também não foi longa a viagem e ao chegar à margem que servia de local de embarque, uma pequena língua arenosa de uma minúscula enseada, o meu coração cínico sussurrou que seria mais uma viagem semelhante à do elefante. Aliás, elefanta.
No entanto, apesar daquela viagem ter sido muito “pré-fabricada”, manda a verdade dizer que, primeiro, o contacto com os paquidermes foi bem interessante e, segundo, agradeci por a viagem ser reduzida. O equilíbrio e as ramagens que insistiam em atacar-me, não era bem a ideia que tinha de prazer.
O rio não era propriamente largo, nem caudaloso. A jangada de bambus não era ampla, mas sim bastante comprida. Estaria para as jangadas que conhecia como as “long board” para as pranchas de surf.
O condutor, com uma enorme cana de bambu para dirigir a jangada, qual gondoleiro da selva, disse para me sentar na retaguarda e, assim que todos os turistas tomaram assento nas suas jangadas, partimos.
Havia uns largos metros entre cada embarcação e o porquê dessa configuração ficou evidente em apenas alguns minutos: o som. Ou melhor, os sons.
De imediato desaparecemos do planeta que conhecia e vogámos para um outro: a selva. Fomos absorvidos por ela. Envolvidos pelos matizes de verde de inúmeras árvores, arbustos e quejandos, rastejantes, trepadeiras, assim como que voadoras.
No entanto, eram os sons que mais marcavam. Da correnteza aquática com pequenos ou maiores gorgulhos, às correntes de ar na folhagem do topo das árvores, ao piar dos pássaros, que quase nunca se viam, até rugidos, bramidos e conversas de animais que só podia imaginar.
Esta viagem, ao contrário das outras que fiz naquele dia, durou mais do que previa, mas menos do que gostaria.
Foi uma apoteose sensorial, algo que nunca tinha experienciado e que nunca mais senti.
Fiquei preso nestas sensações e muitas vezes – como agora mesmo – me transporto para elas e as recordo intensa e vividamente. É outra coisa. Completamente outra coisa.
É esta experiência, reduzida, curta, como um catálogo de vendedor, que me permite transportar para outras narrativas, leituras, seja da Amazónia, seja de África. Quando leio “selva”, zás, fico sentado numa jangada pelo rio Mae Wang abaixo.
A Ceia de Natal
Regressei à cidade, comi uma sopa Tom Yum de camarão, servida generosamente por um vendedor de rua – deliciosa e picante – para regressar ao meu quarto de hotel e descansar um pouco.
Submergi no sono, com a cabeça cheia de selva e elefantes, como um bebé.
Quando acordei tinha um alarme no espírito: era véspera de Natal!
Vesti-me e saí à rua. Não faltavam opções de comida, mas fui descendo a avenida com a secreta ambição de encontrar uma que soasse a Ceia de Natal.
Andei, meti a cabeça em restaurantes, analisei menus expostos à porta de estabelecimentos, mais elaborados uns, mas rústicos outros, orientais muitos, ocidentais alguns, misturados imensos.
Não tinha a menor esperança de encontrar qualquer opção que se assemelhasse às ceias natalícias portuguesas.
Eis senão quando, num relance, do outro lado da avenida topei um cartaz luminoso de fundo vermelho e letras a negro que anunciava: comida da selva.
Lá estava! À falta de bacalhau…
Entrei e atribuíram-me uma mesa e puseram um enorme menu com as várias ofertas. Tudo à base de alimárias que não desejava encontrar vivas: vários tipos de serpentes, crocodilos, etc.
Acabei por escolher um prato combinado: sopa de cobra (com 7 tipos diferentes), hambúrguer de cobra capelo, costeletas de crocodilo e filetes de um tipo de cobra, que me tentaram explicar qual, mas que para mim era… cobra.

Enquanto me traziam a cerveja local mais famosa, Singha, bem fresquinha, a simpática empregada foi explicando que não era por acaso que se comiam aqueles animais. “A sopa – disse – é muito boa para os homens” e piscou o olho. “O crocodilo é muito bom para a asma” continuou. “E a capelo?” Perguntei eu curioso com aquele cardápio. “Oh – sorriu ela piscando o olho novamente – também é bom para os homens”. Entrei na brincadeira: “Então e as mulheres?” Arrisquei. “Essas não precisam” e soltou uma gargalhadinha enquanto se afastava.
Chegou o grande prato com as várias iguarias e mais cerveja. Lá fui comendo, com relutância, mas convencendo-me de que era bacalhau, daquele que trepa às árvores.
Já estava perto do fim, a pensar que raio de sobremesa iria saber a bolo-rei ou tronco de natal, quando chegou o dono para apresentar cumprimentos e indagar se tudo estava de agrado.
O pior é que trazia uma imensa jiboia a dar várias voltas ao pescoço. Pior, estavam os dois a olhar para mim e tinham os mesmos olhos pequenos e negros, fitando-me sem pestanejar!
E se a jiboia descobre que estive a comer a família dela?
Decidi que o Pai Natal iria chegar em breve, mas não ali – que não era maluco. Paguei e saí. Ou melhor, paguei e fugi, sem mesmo dar importância ao olhar triste e desapontado da empregada. Sabia lá o que poderia sair dali…