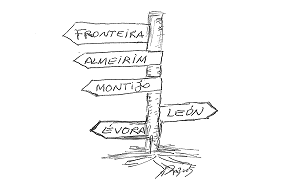A Montanha Mágica
Em dois sítios completamente diferentes, antes de lá chegar, receei ir ter uma enorme desilusão, o que não se verificou, felizmente. O primeiro desses locais foi Veneza, naturalmente, na minha primeira visita. Já havia lido sobre ela, a começar pelo magnífico Morte em Veneza, de Thomas Mann; assim como visto inúmeros filmes, séries e documentários de televisão. Temia que as expetativas fossem demasiado altas.
Porém, ao chegar, fui arrebatado.
O segundo, foi este de que vos falo agora: Machu Picchu. E também fui arrebatado. O título, A Montanha Mágica, confesso tê-lo “fanado” a Thomas Mann, mas a montanha nada tem a ver.
Começa por não ser nada fácil chegar a Machu Picchu. Que o digam os espanhóis que nunca conseguiram. É difícil, especialmente por estrada. Não há.
A opção é o caminho de ferro (que metonímia espetacular!), mas não chega ao cume que procuramos, mas sim a uma terreola denominada Águas Calientes, também conhecida, por alastramento, como Machu Picchu Pueblo. A partir daí, uma estrada sinuosa trepa a montanha, com um atalho menos sinuoso mas muito mais íngreme, para os caminhantes impetuosos, e, para os menos trepadores, como eu, há autocarros frequentes.

Para os trepadores, esse trilho não é (quase) nada, particularmente para quem quer fazer o Trilho Inca, que percorre os picos do Vale Sagrado durante dias. Mas sobre isso nada tenho a dizer, desconheço.
Mas comecemos no princípio. Para chegar a Machu Picchu é preciso começar em Ollantaytambo, Olanta para os amigos. Para quem vem de Cusco, a grande capital Inca, é ali que começa a linha férrea para chegarmos à famosa cidade alcandorada nos picos andinos.
Porém, não é assim tão simples. O comboio não chega lá. Fica-se na tal povoação Águas Calientes. Ou Machu Picchu Pueblo, e daí sim, apanhar um dos frequentes autocarros para o pico onde se situa a famosa cidadela.
Mas vamos (ainda) mais devagar. E por partes. Antes, olhemos com mais detalhe para Ollanta, que não deixa de ter muito interesse por mérito próprio e possui, também ela, as suas próprias, e imponentes, ruínas Incas.
Estamos já no famoso Vale Sagrado Inca e a povoação e sua fortaleza terão sido construídas pelo poderoso Inca Pachacuti, que se pensa ter também construído Machu Picchu.
Infelizmente, não se sabe tanto como gostaríamos dos Incas, uma vez que não tinham sistema escrito. A sua forma de registo era um sistema de nós em fios, o quipu, que calculamos conterem principalmente informação numérica.
No entanto, sendo uma civilização relativamente recente e que, para mal dos seus pecados, foi contemporânea da expansão espanhola, que determinou o colapso dos Incas, temos bastante mais informação do que outras grandes civilizações centro, e norte-americanas.
Considera-se que o império Inca teve início no século XIII e teve um capítulo final concreto no ano de 1572, com a conquista do seu último reduto às mãos dos espanhóis.

O termo Inca significa, ao mesmo tempo, o império e o seu imperador, estabelecendo e propagando uma administração eficiente e uma mundividência mágica da natureza e fortemente enraizada no mundo andino anterior e contíguo de onde, afinal, emergiu.
Para eles, existiam três reinos comandados por suas divindades, normalmente duais, próprias a cada um deles: hanan pacha, o reino celestial, naturalmente no céu, dominado pelo sol, claro; ukhu pacha, o reino subterrâneo e kay pacha, o reino da superfície, onde vivemos nós, humanos.
A melhor fonte de informação sobre os Incas, o seu maior “historiador” ou cronista, foi Gómez Suárez de Figueroa, que depois mereceu o cognome de “El Inca” e, ainda depois, conhecido como Inca Garcilaso de la Vega, filho de um nobre espanhol e de uma nobre Inca, circunstância que lhe mereceu o tal epíteto, que não se sabe se era coisa literal ou se incluía uma nuance de escárnio.
Escreveu a melhor e mais rica fonte historiográfica “Comentarios Reales de los Incas”, que publicou em… Lisboa, em 1609, ainda durante o período da nossa infame dinastia filipina.
O império Inca foi o maior da América do Sul antes de Colombo – e da varíola –terminando com a conquista espanhola, 40 anos de guerra, em que as pestes, além das espadas, tiveram um papel fundamental. Foi algo tão violenta e feroz que é vividamente recordada ainda hoje pelos peruanos, testemunhado em todos os museus e recordado por todos os guias turísticos.
Mas regressemos à Ollanta dos nossos dias.
Trata-se de uma povoação muito simpática, completamente virada para o turismo, como é natural. Situa-se na margem do rio Patakancha, muito perto da sua afluência com o rio Urubamba, que alguns quilómetros depois banha Águas Calientes e cujo percurso a linha de comboio acompanha e é o coração do Vale Sagrado.
Situa-se num declive encimado pelas ruínas Incas e que vai abrandando onde começa a povoação, tendo a estação ferroviária já na zona mais plana. Talvez não seja correto fazer esta divisão entre Ollanta e as ruínas, uma vez que a povoação absorveu grande parte delas, como a “esplanada” Inca, convertida na atual Plaza Mayor, caracteristicamente espanhola.
De resto, muitas das ruas, estreitas de Olanta, preservam o pavimento empedrado irregular, cruzado por todo o tipo de veículos, incluindo pesados em trânsito incessante, que constituem um claro perigo, especialmente depois dos intermináveis pisco sours que os jovens turistas emborcam como se não houvesse amanhã.

O declive foi usado, já pelos Incas, para fazer estreitas condutas de água a céu aberto e que a transportam para onde quer que ela seja necessária. Ainda as podemos ver, transportando água, gorgulhante, pela encosta abaixo, cruzando ruas, passeios e praças.
A fortaleza Inca, alardeando a perícia dos Incas a talhar pedra e construir altas e intransponíveis muralhas, sem qualquer cimento que una os enormes blocos de pedra, explorando apenas a perícia da forma como os seus canteiros os trabalhavam.
Há sempre um número enorme de visitantes a trepar as extensas e íngremes escadarias, a desfrutar a beleza da paisagem, o exotismo dos seus socalcos onde se plantava – e planta – batata e outros cereais conforme a altitude permitisse.
É a altitude que determina o que se pode plantar em cada socalco e é também ela que decide que tipo de batata consegue medrar num e não noutro. Uma arte, uma ciência, que os Incas desenvolveram aprofundadamente muito antes de ela chegar à Europa.
A batata que começou a ser exportada para a Europa, assim como o tabaco e o milho graúdo, teve um impacto tremendo, especialmente com o seu apogeu na revolução industrial, quando constituiu uma base alimentar barata e imprescindível para a numerosa e pobre classe trabalhadora.
É impossível não admirar o Império Inca pelas suas realizações e pela sua extensão também. Um império com milhares de quilómetros de extensão, do Equador, a norte, ao Chile, a sul, sem conhecimento da roda, nem de animais de tração, que transportassem homens, ou bens, e também sem ferro ou aço…
E sem impostos, quase… As obrigações para com o império eram constituídas principalmente por trabalho, um pouco como a nossa corveia dos tempos feudais.

Quando falo em extensão, para ficarmos com uma ideia mais precisa, incluía a parte oeste do Equador e a ponta mais sudoeste da Colômbia, muito do que hoje é o Peru, grande parte da Bolívia, o noroeste da Argentina e ainda uma grande parte do que hoje é o Chile. Uma civilização de dimensão continental.
Desenvolveu ainda uma rede viária necessariamente extensa e de cariz pedestre, base para um sistema de mensageiros que a percorria incessantemente, numa correria ajudada pela coca – e não a cocaína – em chá, ou a própria folha mastigada.
Para os Incas, o seu império chamava-se Tawantinsuyu, quatro partes unidas, traduzindo literalmente do Quechua, a sua língua oficial. Estas quatro partes eram os reinos originais do império as suas constituintes.
A fortaleza de Ollantaytambo, fazendo juz à perícia dos canteiros Incas, é imponente, pensava eu subindo as suas intermináveis escadas, imaginando a canseira daqueles Incas primordiais, para cima e para baixo, várias vezes ao dia. Não há coca que chegue!
Quando cheguei a um dos primeiros patamares, meio escavado na montanha, meio suportado pelas muralhas, suando as estopinhas, com os intensos calores próprios das alturas, ofegante, apesar do meu intenso treino de fare niente ou menos ainda, se possível, estava um lago.
Parei nesse primeiro patamar, limpando o suor e recuperando o fôlego. Tudo bem, pensei eu, enquanto olhava as muralhas e a montanha. Contudo, quando me virei para o vazio da encosta, olhando para a povoação, já minúscula com a distância da altura, e o mais além do vale, ainda mais minúsculo, verifiquei que a proteção do precipício, proteção que supus ali estar… não estava. Havia uma cordita, apoiada nuns ferros magricelas de 5 em 5 metros, que nem aguentaria uma pombinha, quanto mais um trombalazana como eu.

Encostei-me à parede, branco e ofegante, outra vez suando as estopinhas, mas desta vez frio de vertigem, gelado de horror, calculando como iria arrepiar caminho em contramão, contrário à fila de turistas que subia, tal como eu tinha subido até há bem pouco.
Medi a distância para o sítio onde havia uma outra fila de turistas, mas a descer, e era claramente demasiado longe para a minha coragem. E foi mesmo à má fila, com lo siento, scusa, sorry, escusez moi, e o mais que viesse à cabeça. Sempre a medir a distância entre mim e a possível queda, com as pernas bamboleantes em marcha ofegante e a ideia peregrina em recorrer a andar de gatas, caso fosse preciso.
Mas não foi.
Sentei-me à sombra, junto a uma simpática fonte que deveria ter dotes milagrosos, especialmente para mulheres, pois não paravam de beber e tomar a sua água para molhar as frontes. Só não fiz o mesmo porque podia engravidar, sabe-se lá.
Descobri depois que se tratava da famosa fonte do Banho da Princesa. Que não engravidou.
Há pelo menos três tipos de comboio de Ollanta para Machu Picchu (Águas Calientes).
Um, luxuoso, ostentando o nome de Hiram Bigham, o famoso arqueólogo americano que “descobriu” Machu Picchu e muitos consideram ser o modelo que inspirou a personagem de Indiana Jones.
Este comboio de luxo, operado pela empresa do Expresso do Oriente, é uma opção curiosa. O preço de mais de 500 dólares americanos por uma viagem de pouco mais de uma hora, surpreende-me. É certo que inclui uma bebida, refeições e entradas, mas… quantas no prazo de uma hora e meia?
Uma outra opção, popular, com preços muito acessíveis mas com horários impraticáveis, que obrigavam a um a estadia intermédia, em Águas Calientes e que descartámos de imediato.
E, finalmente, uma opção denominada Vistadrome, que nos apelou mais. O comboio continuava a percorrer a mesmíssima distância no mesmíssimo tempo, e, claro, nos mesmos carris. Para ajudar, tínhamos direito a uma bebida – chá de coca – e dispunha de janelas enormes, incluindo no teto, pera apreciar a paisagem. Oferecia o rio, tumultuoso, de lado e a vegetação, luxuriante, por toda a parte. Lá muito de vez em quando, acendia-se um sinal de humanidade a amanhar a vegetação feroz…
Tínhamos saído muito cedo, perto das 8:00H para tentar evitar as multidões. Pois, pois, parece que as trazíamos na mochila. Não havia lugar onde não encontrássemos magotes e magotes de turistas, ainda por cima à nossa frente, que é o pior sítio para ter centenas de turistas. Mas não há como evitá-lo.
Quando chegámos aos largos portões de entrada do que as autoridades apelidavam de Santuário de Machu Picchu, depois do pequeno autocarro vencer a estrada encaracolada montanha acima, uma pequena escadaria subia até aos largos portões do santuário, ladeados pelas bilheteiras.
Ficámos à espera que os portões abrissem e íamos vendo chegar mais e mais pessoas.

Impressionante, também, o grande número de visitantes em cadeiras de rodas e lutando como podiam com as suas canadianas. Impressionante pela irregularidade do terreno, grandes obstáculos a vencer.
Mas era evidente o apelo que Machu Picchu exercia em todos – incluindo nós – apelo esse que, saudavelmente, era reconhecido pelas autoridades locais que organizavam os recursos necessários para permitir o acesso a todos.
Após a bilheteira, mais umas escadas, mais estreitas, uma esquina fechada e pumba! Machu Picchu em toda a sua glória.
É difícil – impossível mesmo – descrever a imponência da coisa. Ao fim e ao resto, são uns muros, ruínas de edifícios de outrora, numa encosta, ponteadas ao fundo pela montanha tipo Pão de Açúcar com quilha ao fundo.
O que há então ali que oferece a imponência e impacto do sítio? Os Andes, a resposta mais fácil, não serão, que se estendem por milhares de quilómetros, todos imponentes, mas sem aquele brilho, aquela luz.
Eu sei, mas não me batam (muito). É magia. Não é por acaso que os Incas lhe chamavam de vale sagrado e ainda hoje de santuário. Há coisas que não são para explicar, são para se viverem.

Acontece que tudo o que se pensa hoje sobre as ruínas de Machu Picchu e a sua utilização e ainda sobre a vida quotidiana na cidade são construções teóricas com base no que se encontrou nas diversas e sucessivas escavações arqueológicas. Foram (são) muitas, assim como iniciativas de consolidação e manutenção.
Assim, conforme as ideias atuais, a cidade divide-se em dois campos, o superior e o inferior. No superior situam-se os templos e no inferior os armazéns e os edifícios necessários para a exploração agrícola. Se fossem os portugueses, decerto teríamos o Machu Picchu de cima e o de baixo, ou o cimeiro e o fundeiro. Mas não, Machu Pichu só há um, e assim é que está bem.
Na parte superior situam-se o Templo do Sol, majestoso, como não podia deixar de ser, com a sua configuração parabólica, o Templo das Três Janelas e ainda a Intihuatana, uma pedra ritual, com leitura astronómica no calendário Inca. Pensa-se que foi Hiram Bigham que a batizou e, por isso, vale o que vale.

Como me pareceu evidente, depois de passear entre muros e pedras, o melhor de tudo era procurar um belo sítio para sentar, absorver a paisagem e meditar nos tempos em que mensageiros percorriam trilhos e os Incas, calmamente, prosseguiam as suas vidinhas, sem espanhóis e sem pestes.
As alpacas a pastarem lentamente nos prados contidos pelas ruinas ajudavam a imaginação.
Uma curiosidade é que existe um posto para carimbar os nossos passaportes, para podermos recordar a efeméride. Infelizmente, Portugal tem uma política selvagem de nos roubar os passaportes quando caducam, apesar de serem documentos que comprámos por não pouco dinheiro. Quando limparam a casa da ditadura, ficaram imensos cantos cheios de lixo!
Enfim, em algum tempo teríamos de tomar o autocarro para o sopé da montanha mágica. Uma viagem de coração cheio.
Consultado o horário, ainda restava um par de horas, ou quase, para deambular pelo Pueblo.

Águas Calientes é uma povoação a abarrotar de comércio e hotelaria que deve a sua existência às ruínas Incas do topo da montanha e ponto final.
É atravessada pelo impetuoso rio Urubamba e pelo caminho de ferro, tendo, naturalmente, várias nascentes termais de águas quentes, como o seu nome indica.
Estas termas foram descobertas e exploradas recentemente, se bem que duvide que alguém lá fique pelas suas qualidades, sem incluir Machu Picchu no pacote.
Há um mar de tendinhas a vender o brique à braque turístico que se encontra por todo o Perú, e por lá andámos, entretidos, esperando o comboio. Rua atrás de rua, tendas cheias das mesmas coisas, quando, de repente, numa guarida, nos surge uma imagem familiar. Será possível? Era.
Num singelo altar protegido pelo vidro, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, com os seus inseparáveis 3 pastorinhos, ladeada por dois raminhos de flores brancas de devoção.
Quem diria?
Mais uma prova que o sagrado é uma continuidade de fé, unido e inseparável, um sincretismo total, indissociável e não segmentável.